





















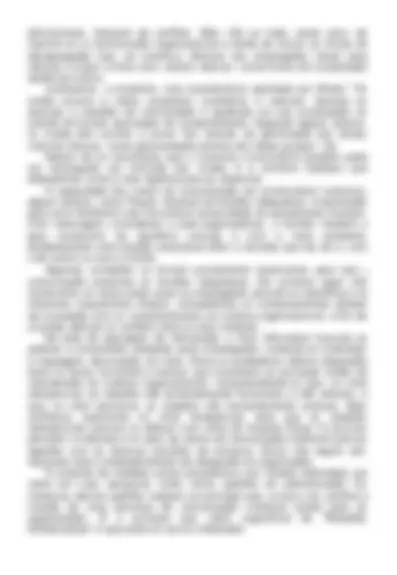








































































Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Este documento discute a importância da comunicação na organização, enfatizando a influência de grupos e fluxos de comunicação em determinatar a eficácia da organização. O texto aborda as características de grupos formais e informais, a importância de conhecer as redes informais de comunicação, e a divisão das tarefas de comunicação em áreas-chave, incluindo comunicação cultural, coletiva e de sistemas de informação.
Tipologia: Notas de estudo
1 / 142

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!






















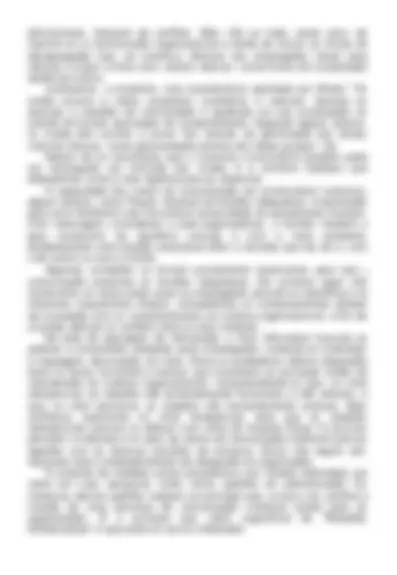






































































A comunicação exerce um extraordinário poder no equilíbrio,
Francisco Gaudêncio Torquato do Rego
Comunicação empresarial/ comunicação institucional
Conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas
Copyright® 1986 by Francisco Gaudêncio Torquato do Rego
Direitos desta edição reservados por Summus Editorial Capa: Luís Díaz Summus Editorial Departamento editorial: Rua Itapicuru, 613 – 7º andar - 05006-000 - São Paulo - SP Fone: (11) 3872-3322 - Fax: (11) 3872- http://www.summus.com.br - e-mail: summus@summus.com.br Atendimento ao consumidor: Summus Editorial Fone: (11) 3865- Vendas por atacado: Fone: (11) 3873-8638 Fax: (11) 3873- e-mail: vendas@summus.com.br
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Rego, Francisco Gaudêncio Torquato do, 1945- R267c Comunicação empresarial/comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas / Francisco Gaudêncio Torquato do Rego. - São Paulo: Summus, 1986. (Novas buscas em comunicação; v. 11)
ISBN 85-323-0240-
Índices para catálogo sistemático:
Compre em lugar de fotocopiar. Cada real que você dá por um livro recompensa seus autores e os convida a produzir mais sobre o tema; incentiva seus editores a encomendar, traduzir e publicar outras obras sobre o assunto; e paga aos livreiros por estocar e levar até você livros para a
sua informação e o seu entretenimento. Cada real que você dá pela fotocópia não autorizada de um livro financia o crime (sic!) e ajuda a matar a produção intelectual de seu pais.
Índice
Prefácio
Este livro procura traduzir os resultados das diversas experiências por que passei nos últimos anos. Nesse sentido, representa o coroa-mento de minhas reflexões conceituais e o amadurecimento de vivências profissionais, em campos diferenciados da comunicação a serviço das Organizações. Sua proposta básica é a de demonstrar que a comunicação exerce um extraordinário poder para o equilíbrio, o desenvolvimento e a expansão das empresas. Compreender quais as variáveis que influem para formar este poder, situar seu papel ante outros poderes, mostrar como ganhar maior eficácia — constituem objetivos das duas partes do livro, compostas em capítulos que procuram, didaticamente, oferecer ensinamentos de uso imediato. Trata-se de uma abordagem sistêmica para a comunicação empresarial/ institucional. E talvez resida nesse aspecto seu diferencial em relação à bibliografia de comunicação especializada. Procuro mostrar que a implantação de sistemas de comunicação em organizações, públicas ou privadas, exige um minucioso planejamento, voltado para a multiplicidade dos atos comunicativos. Dessa forma, a eficácia de instrumentos de comunicação coletiva ou social é resultante das atitudes e ações de comunicação intrapessoal, interpessoal e grupal. O estudo da comunicação social passa, preliminarmente, pelo estudo de outras formas de comunicação. Lembrar esse aspecto parece, hoje, bastante oportuno. Em minha experiência profissional, dirigindo estruturas de comunicação, orientando atividades de jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e propaganda, editoração, identidade corporativa, constatei situações e comportamentos que. sem sombra de dúvidas, alimentam graves distorções. Os empresários e o quadro de dirigentes tendem a analisar, de maneira fragmentada e compartimentalizada, as atividades de comunicação. Imaginam em um press-release, uma matéria no jornal interno, um evento de relações públicas ou uma mensagem publicitária institucional, tomados isoladamente, podem fazer milagres e criar uma imagem positiva para suas empresas. Tento mostrar que os atos, os canais, os programas, para serem eficazes, necessitarão de coordenação centralizada com a finalidade de preservar uma linguagem homogênea e integrada. Estruturar tais ações, montar modelos adaptados à cultura de cada instituição, auscultar os climas internos e as demandas externas para embasar as propostas de trabalho — essa é a dimensão que guia as linhas de pensamento propostas, formuladas com sentido de praticidade. Parto de um modelo ideal de estrutura de comunicação, dentro do qual dirigentes e profissionais podem realizar reduções ou adaptações. O importante é procurar considerar a comunicação como uma ação
1 - A comunicação como poder nas organizações
Introdução Pretendemos, nesta primeira parte, estabelecer uma ligação entre as variáveis que organizam o conceito de empresa e os elementos condicionantes e determinantes do conceito de comunicação. Procurar-se-á, ao correr das idéias deste livro, apoio nas áreas de Teoria de Sistemas, Sociologia e Psicologia da Administração. É evidente que, ao se tratar de um campo tão amplo como Empresa e Comunicação, não poderão ser evitadas as normais inferências, fruto de observação direta de experiências no trato rotineiro com organizações complexas.
A empresa como sistema Como unidade socioeconômica voltada para a produção de um bem de consumo ou serviço, a empresa é um sistema que reúne capital, trabalho, normas, políticas, natureza técnica. Uma empresa não apenas objetiva gerar bens econômicos, para uma relação de troca entre produtor e consumidor, mas procura também desempenhar papel significativo no tecido social, missão que deve cumprir qualquer que seja o contexto político. É de alta relevância o papel formador da empresa, dentro dos sistemas políticos, sua contribuição social, por meio da geração de empregos, descoberta de processos, avanços tecnológicos, enfim, seu papel de vanguarda na elaboração de estratégias, produtos e serviços que resultam em progresso. Quanto a sua natureza econômica, é bom enfatizar que, graças à produção de bens e serviços para uma relação de troca, a empresa cria as condições para se viabilizar. Conciliando aspectos sociais e econômicos, a organização ajusta-se ao escopo para o qual foi idealizada. Outro ponto que pretendemos realçar diz respeito à definição de sistema. A administração moderna há muito está se apoiando na Teoria de Sistemas, Para melhor clarificar a questão, procuremos posicionar a empresa como uma unidade dentro do vasto e complexo espectro das organizações. Se entendemos por organização o ordenamento, a disposição das partes que compõem um todo, ou, no dizer de Talcott Parsons (1), a unidade social direcionada à consecução de metas específicas, vamos constatar na exTtensão do conceito, os fundamentos
dos princípios sistêmicos. A Teoria de Sistemas, por sua vez, impregna-se do conceito de organização, na medida em que um sistema é o todo organizado, constituindo-se na possibilidade técnica e operacional de integração de partes, intercambiadas e interdependentes. Ou, na visão de Walter Buckley (2), o sistema é uma entidade concreta ou abstrata, que reúne componentes que se relacionam mutuamente. Uma característica fundamental do sistema é, pois, o elemento organizacional que lhe é intrínseco, pelo que se infere que o todo, pela Teoria de Sistemas, é maior que a soma de suas partes, evidenciando-se, aqui, o caráter organizacional que constitui o elemento comprobatório do conceito. Ao caracterizar o sistema como entidade abstrata, Buckley pretendeu lembrar dificuldades inerentes a determinados tipos de sistemas, cujos limites são muito difíceis de ser delineados. Estamos, evidentemente, tratando de sistemas abertos, que se caracterizam por formas de encadeamento e intercâmbio entre as partes e o todo, circuitos de realimentação, direção para metas, mecanismos de mediação e controle, que os fazem evoluir acompanhando a dinâmica social. Como exemplo, o sistema político, cujos limites não se confinam ao corpo de disposições, normas e instituições políticas. Sua existência depende do sistema econômico e vice-versa. Daí a dificuldade para se medir os exatos limites de um sistema. Como sistema, a empresa possui limites definidos, de um lado, pelos componentes administrativos necessários à geração de bens e serviços, de outro, recebe influências do meio ambiente, podendo-se aduzir, por inferência, que uma empresa não é apenas resultante de componentes concretos do microssistema organizacional, mas é conseqüência de forças, pressões, recursos e situações, nem sempre fáceis de detectar, presentes no corpo social. Quando se organiza, pois, uma empresa, na verdade, o que está-se organizando são seus circuitos internos e externos, ajustando-os e promovendo seu intercâmbio com outros sistemas. A empresa, enquanto sistema, apóia-se na cooperação, analisada por Chester I. Barnard (3), por meio do que ele chama de categorias determinantes de variações e situações de cooperação, tais como: a) aspectos relacionados ao meio ambiente físico; b) aspectos relacionados ao meio ambiente social; c) aspectos relacionados ao comportamento dos indivíduos e d) outras variáveis que podem influir nas questões de cooperação, como recursos tecnológicos, políticas de remuneração etc. A componente cooperativa inerente ao sistema organizacional já havia sido detectada por H. Spencer (4), na sua abrangente visão do contexto social, ao lembrar que "todas as espécies são iguais na medida em que cada qual exibe cooperação entre seus componentes em benefício do todo". Ao lado da dimensão de cooperação, lembramos a visão de M. Weber (5), que estabeleceu os princípios determinantes da legitimidade organizacional ao conceituar a burocracia. Quando edifica o arcabouço organizacional sobre uma base meramente burocrática — respeito às normas e à hierarquia, culto à impessoalidade, entre outros requisitos — Weber confere à organização uma rigidez e uma falta de maleabilidade,
às operações empresariais. Trazendo informações desses três sistemas ou enviando informações para eles, o processo comunicacional estrutura as convenientes ligações entre o microssistema interno e o macrossistema social, estuda a concorrência, analisa as pressões do meio ambiente, gerando as condições para o aperfeiçoamento organizacional. A partir dessa análise, pode-se aprofundar o entendimento da comunicação, pesquisando-se suas múltiplas perspectivas conceituais, extraindo-se de cada conceito uma experiência para a administração. Por exemplo, se se quer isolar o fenômeno comunicacional sob o prisma meramente sociológico, buscar-se-ão fundamentos na teoria de formação dos grupos, na teoria de formação da opinião pública, momento em que importantes questões afloram, entre elas, por exemplo, a situação das lideranças informais, os problemas gerados pela temida rede de boatos, os freqüentes ruídos originados pela comunicação formal, os processos de organização das chamadas relações solidárias. O processo da comunicação está igualmente imbricado à sociocultura organizacional, e nesse caso, o objeto de análise se concentra sobre os elementos formadores dos climas internos, a partir da pesquisa de etnia e cultura dos tipos organizacionais, apoiando-se, portanto, em fundamentos antropológicos. O diagnóstico amplo das situações internas, sob as perspectivas sociológicas e antropológicas, é tarefa imprescindível para a implantação de projetos comunicacionais. A aplicação de um modelo de comunicação calcado na cultura organizacional influi decisivamente sobre a eficácia geral da empresa. Como técnica, a comunicação direciona naturalmente seus estudos para a procura de mensagens adequadas, corretas, oportunas, claras, concisas, precisas, que possam ser assimiladas sem ruídos pelos participantes organizacionais. Para atingir tal meta, a comunicação procurará ajustar seu discurso, estudando as habilidades e disposições das fontes e receptores, a natureza técnica dos canais, (^) a complexidade e/ou
simplicidade dos conteúdos, a oportunidade e regularidade dos fluxos, o tamanho dos grupos. E, em processo de compreensão, multidisciplinar, aparecerão permeados nas mensagens de comunicação, fundamentos da Lingüística, de Sociologia, Antropologia, Ética, Direito etc. A comunicação é, portanto, uma área multidisciplinar, mediando os interesses dos participantes, os interesses da empresa, enquanto unidade econômica, e os interesses da administração. Essa grande característica do fenômeno comunicacional — de mediação de objetivos — mostra sua magnitude e importância para o equilíbrio do microclima interno. Na outra ponta do sistema, estão as vertentes comunicativas, ajustando a identidade empresarial ao meio social, processo que engloba as tarefas clássicas e bem definidas de Relações Públicas, Publicidade, Jornalismo, Editoração, Identidade Visual e os modelos de sistemas de informação.
Comunicação como poder expressivo
Se alguns poderes legitimam a empresa, a comunicação exerce igualmente um certo e grande poder. A propósito lembramos o pensamento de Karl Deutsch (8), que mostra o poder como a possibilidade de uma pessoa ou uma entidade gerar influência sobre outrem. A comunicação, que, enquanto processo, transfere simbolicamente idéias entre interlocutores, é capaz de, pelo simples fato de existir, gerar influências. E mais: exerce, em sua plenitude, um poder que preferimos designar de poder expressivo, legitimando outros poderes existentes na organização, como o poder remunerativo, o poder normativo e o poder coercitivo. É oportuno lembrar que as normas, o processo de recompensas e os sistemas de coerção existentes nas organizações, para se legitimarem, passam, antes, por processos de codificação e decodificação, recebem tratamento ao nível do código lingüístico, assumindo, ao final, a forma de um discurso que pode gerar maior ou menor aceitação pelos empregados. A comunicação, como processo e técnica, fundamenta-se nos conteúdos de diversas disciplinas do conhecimento humano, intermedia o discurso organizacional, ajusta interesses, controla os participantes internos e externos, promove, enfim, maior aceitabilidade da ideologia empresarial. Como poder expressivo, exerce uma função-meio perante outras juncões-fim da organização. Nesse sentido, chega a contribuir para a maior produtividade, corroborando e reforçando a economia organizacional. O poder expressivo das empresas viabiliza o processo burocrático, adicionando elementos expressivos, emotivos e inferências às rígidas posturas hierárquicas, e tornando o ato de administrar não apenas uma relação mecânica entre posições do organograma, mas uma relação social positiva dentro da visão de que o trabalho é um bem dignificante e de que a economia e a administração não são ciências exatas mas, sobremodo, ciências humanas, temas, aliás, que estão na ordem do dia das atuais questões políticas e econômicas do Brasil. Quanto ao fluxo externo, cabe alinhar, mais uma vez, a possibilidade da comunicação, utilizando-se de seus processos e técnicas, ajustando os filões de segmentos de mercado, criando e mantendo uma identidade, ampliando o esforço mercadológico, melhorando as vendas e aperfeiçoando os contatos com públicos diferenciados. São estas posições que consideramos importantes quando se pretende estabelecer uma aproximação entre a empresa e o seu sistema de comunicação. Para concluir, resta lembrar um princípio que sintetiza a idéia- chave desta primeira reflexão: "Os bons administradores são aqueles que conseguem produzir significações, tanto quanto dinheiro". As significações são o amálgama da comunicação.
2 - Comunicação de massa e comunicação empresarial
Convencionou-se chamar os jornais, rádio, televisão e cinema de "meios de comunicação de massa". Esses instrumentos de comunicação são assim categorizados por atenderem às características que a maioria dos autores sobre Comunicação entendem pelo termo "massa". Contudo, a orientação não é unânime. Há quem não considere o público dos jornais, do rádio, da televisão e do cinema como sendo "massa", no sentido sociológico do termo. Se assim for, pode-se falar menos ainda de "massa" em relação ao público da comunicação empresarial. Talvez o autor que mais tenha defendido a tese de que a audiência dos chamados "meios de comunicação de massa" não se constitui realmente em "massa" seja o norte-americano Eliot Freidson. Para desenvolver seu argumento, Freidson toma como padrão a definição de massa dada por H. Blumer, e bastante aceita nos meios da Sociologia: "A massa é destituída das características de uma sociedade ou de uma comunidade. Não possui organização social, costumes, tradição, um corpo estabelecido de regras ou rituais, um conjunto organizado de sentimentos, nem qualquer estrutura de status-papéis ou liderança institucionalizadas. Na verdade, é constituída por um agregado de indivíduos que se encontram separados, desligados e anônimos e, mesmo assim, formando um grupo homogêneo em termos de comportamento de massa que, justamente por não resultar de regras ou expectativas preestabelecidas é espontâneo, inato e elementar."(l) Evidentemente, caso se leve em consideração essa definição de Blumer, o público de um jornal de empresa jamais poderia ser considerado como massa. Embora numa grande indústria muitas pessoas Permaneçam anônimas entre si, apesar de trabalharem juntas, podendo inclusive estar espacialmente separadas umas das outras, a estrutura empresarial não se encaixa nos quesitos exigidos por Blumer para caracterizar a massa, pois os papéis de cada pessoa são muito bem definidos numa empresa, a liderança é institucionalizada, há um corpo estabelecido de regras sendo obedecido e, em geral, os participantes de uma empresa não estão desligados uns dos outros. Na verdade, talvez nem mesmo a audiência dos jornais, rádio e TV possa ser classificada como "massa", caso se queira preencher todos os quesitos exigidos pela definição de Blumer. Este é o argumento de Eliot Freidson, pois para ele o indivíduo que recebe a mensagem de um veículo de comunicação de massa experimenta aquele conteúdo recebido junto a um grupo social que não é heterogêneo, que não é composto de pessoas anônimas entre si, que está organizado socialmente, e cujos membros interagem com constância (2). Por exemplo, uma pessoa geralmente assiste televisão com a família, que é um grupo social homogêneo, cujos membros interagem e se influenciam reciprocamente, que obviamente não são anônimos entre si, e que têm papéis definidos, além de uma série de tradições, rituais e normas.
Mesmo que a pessoa assista TV sozinha, ela irá comentar o programa que assistiu, no dia seguinte, com seus companheiros de trabalho, ou de clube, ou com seus vizinhos, ou com os membros de seu partido político, enfim, com qualquer grupo social que não atende às características de massa conforme exigidas pela definição de Blumer. Se tudo isso é verdade para o público em geral, é muito mais verdade para o público da comunicação empresarial. Em geral, o conteúdo das comunicações empresariais não atingem indivíduos isolados, mas grupos, que podem ser constituídos por todos os membros da empresa ou por setores (departamentos, seções ou grupos espontaneamente formados nestes departamentos ou seções). De fato, se o conceito de Blumer for levado com rigidez, muito poucos serão os exemplos a serem citados como caracterização de "massa". O próprio autor cita um: os tempos das corridas de ouro, quando se juntam pessoas das mais diversas origens (formando, portanto, um grupo heterogêneo), que não se conhecem, que não têm qualquer tipo de tradição comum, cujos papéis não estão definidos institucionalmente, sem lideranças regularmente estabelecidas, sem qualquer sentimento de fidelidade ou lealdade, mas que ainda assim possuem um objetivo comum, o que lhes empresta de alguma forma um caráter de homogeneidade. É claro que não se trata deste tipo de massa a audiência dos meios de comunicação como jornais, revistas, rádio ou televisão. 0 conceito de audiência dos meios de comunicação de massa tem mudado substancialmente no decorrer dos anos, apesar de se ter mantido (talvez erroneamente) o termo "meios de comunicação de massa". São raríssimos os autores que ainda encaram a audiência de jornais, revistas, rádio, televisão ou cinema, como coleções passivas de indivíduos que pouco interagem entre si, como requer a definição de massa formulada por Blumer. O conceito de que o conteúdo das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa é "filtrado" pelos grupos sociais a que estão filiadas quase todas as pessoas, está quase universalmente aceito. A princípio, influenciados pela magnitude em tamanho das audiências dos instrumentos de comunicação de massa, os autores imaginaram que os efeitos das mensagens poderiam provocar efeitos similares aos comportamentos de massa, no sentido sociológico do termo. Mas, aos poucos, chegou-se à conclusão de que a audiência deve ser vista como uma entidade ativa, que procura aquilo que quer, que rejeita assim como aceita idéias formuladas pelos meios de comunicação, que interage com os membros de seus grupos sociais, e que testa a mensagem transmitida pelos meios, falando sobre elas com outras pessoas e comparando o conteúdo de um meio com o de outros. Ainda é grande, contudo, o número de pessoas que acredita nos meios de comunicação de massa como instrumentos todo-poderosos e, por isso, tendem a superestimar a sua capacidade de atuação. E isso acontece também na área da comunicação empresarial. É importante que aqueles
com seu entendimento (um artigo escrito com vocabulário acima da compreensão do leitor não será por ele entendido, o que levará provavelmente à sua rejeição), de acordo com a qualidade do estilo sob o qual a matéria foi escrita. Mesmo depois da matéria ter sido selecionada e aceita, ainda podem ocorrer distorções na interpretação do leitor, dependendo da clareza com que o texto foi redigido, da exatidão das informações expressas na matéria, e de acordo com os preconceitos mantidos por cada leitor. Portanto, a audiência pode ser mais ou menos ativa, mas ela nunca será totalmente passiva, como pretendiam os autores mais remotos da ciência da comunicação, que imaginaram estar lidando com audiências caracteristicamente de massa, conforme as definições sociológicas do termo. Seria, então, incorreto classificar o público de um jornal ou revista de empresa como sendo "de massa"? Provavelmente não. Primeiro porque a designação "meio de comunicação de massa" para jornal e revista já está definitivamente consagrada, embora possa não estar absolutamente correta sob o ponto de vista sociológico. Além disso, a interpretação sociológica de Blumer para o termo "massa" não é a única que existe, nem precisa necessariamente ser a única correta. Assim, por exemplo, o próprio Freidson aceita a concepção de massa para as audiências de rádio, televisão, jornais, revistas e cinema, mas desde que se tenha como perspectiva, não os indivíduos, mas sim os grupos sociais. Por exemplo, um grupo social (a família Matos) pode ser anônimo para outro grupo social (a família Moreira). Os dois grupos sociais podem estar igualmente separados espacialmente, não terem qualquer possibilidade de interação, não possuírem tradições ou regras comuns e não exercerem papéis institucionalmente estabelecidos em relação um ao outro. Assim, poder-se-ia falar em relacionamento de massa intergrupal, ao invés de interindividual. O mesmo raciocínio pode ser perfeitamente enquadrado numa estrutura empresarial, na qual muito freqüentemente, os membros de um departamento não conhecem mais ninguém, nem interagem com mais ninguém, além dos membros de seu próprio departamento. Charles Wright, ao falar em meios de comunicação de massa, afirma que suas mensagens são dirigidas para uma audiência relativamente grande, heterogênea e anônima. E o advérbio "relativamente" vem a ter grande importância, pois atenua o absolutismo da definição de Blumer e permite perfeitamente o enquadramento de todas as audiências de rádio, televisão, jornais e revistas (inclusive as empresariais) no conceito de massa, agora redefinido. Assim, Wright pretende, ao classificar alguns meios de comunicação como sendo de massa, apenas diferenciá-los daqueles que são utilizados para a veiculação de mensagens endereçadas para indivíduos específicos. Ao falar em audiência "relativamente anônima", ele pretende dizer que os membros dessa audiência permanecem desconhecidos do comunicador; ao
falar em "heterogênea", ele quer dizer que os membros da audiência têm origens diversas, sob o ponto de vista de padrões demográficos (idade, sexo, origem geográfica, nível de escolaridade, padrão econômico etc.) e ao falar em "grande", ele tenta delimitar o adjetivo definindo como grande uma quantidade de pessoas sobre as quais o comunicador não pode atuar mútua e diretamente sobre cada uma delas. Com este novo conceito, percebe-se que as publicações de empresa são perfeitamente enquadráveis na designação "meios de comunicação de massa" e que suas audiências podem também ser classifi (^) ca das como "de
massa". Afinal, via de regra, um jornal ou avista de empresa possui públicos relativamente grandes, heterogêneos e anônimos, conforme a definição de Wright. Deve-se continuar lembrando, no entanto, que a exposição a comunicação de massa ocorre dentro de pequenos grupos sociais, e mesmo quando fisicamente isolado, o membro da audiência está, é claro, ligado a um número de agrupamentos sociais (primários e secundários), que podem modificar sua reação à mensagem. O que caracteriza o meio como sendo de massa, no entanto, é o fato de que, sob o ponto de vista do comunicador, a mensagem ê endereçada a quem interessar possa. E esse "a quem interessar possa" pode ser colocado em qualquer tipo de comunidade, seja ela uma nação (no caso das emissões nacionais de TV ou rádio), uma cidade (no caso dos jornais diários) ou uma organização (no caso de uma publicação empresarial). É importante não se esquecer que o chamado "modelo de agulha hipodérmica", de Katz e Lazarsfeld, que era exatamente o que se aplicava à noção de que a audiência dos meios de comunicação de massa era realmente "massa" no sentido que Blumer dá ao termo, já não pode mais ser levado em consideração. O modelo da "agulha hipodérmica" (a mensagem seria "aplicada" através dos meios, que seriam a agulha, diretamente sobre cada componente da massa) ficou absolutamente superado pelas pesquisas posteriores que demonstraram a importância dos processos de seleção, rejeição, aceitação e interpretação e dos grupos sociais. A não ser que o indivíduo seja absolutamente anônimo no seu ambiente social (o que provavelmente só ocorre em casos patológicos), ele sempre sofrerá a influência de algum grupo. Outros modelos mais recentes a respeito da audiência da comunicação de massa, que talvez possam ser de utilidade para os estudiosos da comunicação organizacional, são o do "fluxo em duas etapas" e o da "exposição seletiva". A primeira dessas teorias, a do "fluxo em duas etapas" (two-step flow, em inglês), foi formulada por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet, em 1948 (4). Ela foi formulada depois que os três autores realizaram um dos mais célebres estudos a respeito da influência dos meios de comunicação de massa sobre o processo político, durante a campanha presidencial norte-americana do ano de 1940, utilizando como amostragem a cidade de Erie, no Estado de Ohio.